As revoluções do individualismo

O ódio circula nos subterrâneos dos Estados Unidos (Trump) e do Brasil (Bolsonaro). Não à toa, o extremismo de direita transformou o ódio em ferramenta preferencial para a sua construção política e arregimentação de adeptos.
“Individualismo” é um termo polissêmico, com muitos significados no palco da história. Seria um grande erro imaginar que o conceito se manteve imóvel, no tempo. Como uma ária de Giuseppe Verdi, “feito pluma ao vento / mudou de sotaque / e de pensamento”. Esse artigo lança algumas questões que atravessaram a abordagem do tema. Sob o totalitarismo nazifascista, que sufocou os direitos individuais, o individualismo tatuou o valor supremo da liberdade no campo do humanismo moderado. Foi a primeira revolução do individualismo, no período posterior à II Guerra Mundial.
Para Simone de Beauvoir, em Por uma moral da ambiguidade, esse “novo individualismo” teve a capacidade de refundar a existencialidade dos indivíduos, em termos filosóficos. Não se tratou de uma simples via para “l’anarchie du bon plaisir”. Albert Camus, em O homem revoltado, seguiu a toada ao explicar que o individualismo em evidência não se confundia com a busca hedonista do prazer: “il est lutte”. Fora do existencialismo, porém, houve resistência às posições individualistas através da recusa ao que aparentava ser uma fuga alienante do real, e não uma verdadeira luta.
Sensível às objeções, a revista Temps modernes fundada por Jean-Paul Sartre ecoou o primado do coletivo. Se não bastasse, o autor de Crítica da Razão Dialética discorreu sobre a importância dos “grupos em fusão” para transcender a “alienação” e a “serialidade” (a dispersão, a solidão). O intuito esteve em tirar o novo individualismo de uma redoma de vidro impenetrável. Não obstante, a perspectiva sartreana relativizava o social ao circunscrever a liberdade na esfera das singularidades: “O importante não é o que fizeram de mim, mas o que eu faço com o que fizeram de mim”.
Nos idos de 1970, receberam fôlego as formulações contrárias ao individualismo para confrontar o projeto de individuação existencialista, que recendia a desobediência civil com viés anarcoliberal. Alicerçado em um coletivismo, o marxismo entrou na batalha para combater o anarcoliberalismo, em importantes centros intelectuais da França, da Itália e da Inglaterra, esgrimindo uma crítica ao “individualismo pequeno burguês” e às ilusões libertárias atomizadas, que tendiam ao quietismo.
Para os marxistas, só as soluções coletivistas poderiam equacionar as desigualdades sociais e econômicas. O processo político de desalienação capitalista depende da organização, em todos os locais de trabalho, moradia e estudo dos trabalhadores oprimidos e explorados, argumentavam.
A “dimensão social da atividade humana” era ressaltada por diversos pensadores, entre eles, Michel Foucault, para quem “o indivíduo é, sem dúvida, o átomo ficcional de uma representação ideológica da sociedade, mas é também uma realidade fabricada por esta tecnologia de poder chamada de disciplina”, em Vigiar e Punir. O anti-individualismo se espalhou com os nomes de classe, grupo, neotribo, multidão. Uma cultura holística se desenhou, com o empoderamento de sujeitos plurais.
A primeira revolução do individualismo incrementou a emancipação feminista, pelo direito de dispor do corpo. Em paralelo, estimulou a abertura dos costumes sexuais e familiares em uma prova do independentismo diante dos regramentos heterônomos, “até que a morte os separe”. A maior autonomização derivou dos movimentos individualistas, e gerou divórcios e celibatos. A atual crise de representação política é o efeito colateral do enaltecimento dos interesses particulares e dos comprometimentos individuais para participar, diretamente, nos rumos da sociedade e de Gaia.
Nova razão do mundo
A segunda revolução do individualismo, enquanto mentalidade e estilo de vida, encontrou um aliado estratégico nos anos 1980: o neoliberalismo, “la nouvelle raison du monde”, no léxico de Pierre Dardot e Christian Laval. Fenômeno que coincidiu com a perda de prestígio do marxismo, em função dos inúmeros relatos dos dissidentes da ex-URSS sobre as práticas totalitárias do “comunismo soviético” (nem “comunismo” e tampouco “soviético”, diga-se de passagem, para os trostskistas). Neste contexto, militantes com referência no leninismo e no maoismo redescobriram a aura individualista e liberal dos direitos, antes rotulados com desprezo como “ideologia burguesa”.
A novíssima corrida para o individualismo acompanhou os ventos que sopravam na direção de um “narcisismo”, com lufadas vigorosas a exigir “menos Marx, mais Mises”. No barco da civilização monetarista, o assunto recorrente era o papel do Estado; os aplausos iam para o livre mercado. Sob o pensée unique (neoliberalismo hegemônico), a moda consistia em problematizar o tamanho do aparelho de Estado (burocrático, mastodôntico), em contraposição às virtudes da empresa privada (ágil, eficiente). O antiestatismo e as antinacionalizações impulsionavam uma direita regressiva a abandonar a bandeira da igualdade, que está na origem da modernidade ocidental. A maré alta arrastou os direitos sociais e trabalhistas de retorno ao sombrio século 19, em que as mulheres e as crianças tinham a escravizante jornada de trabalho de dezesseis horas, com um salário de fome.
O leme do igualitarismo sofreu avarias. Ficava para trás o elã coletivista do Maio de 68. Iniciava uma época que propunha usufruir ao máximo a existência, agora com a régua do hedonismo. A juventude se vestia com os preceitos da massificação do consumo. Individualidades estereotipadas forjavam uma distinção na órbita da subjetividade. O consumismo era vinculado a signos e slogans identificados com a liberdade (rock, calça jeans), que serviam para preencher o vazio existencial.
A liberdade remetia a um regime econômico em que o privatismo se estendia às escolhas por uma saúde privada, uma educação privada, uma cultura privada. O interesse público não pesava. Se a realidade não fornecia opções para 99% do povo, azar. O problema era das pessoas, não do Estado. “A sociedade não existe, o que existe são os indivíduos e as famílias”, bradava Margaret Thatcher. Cada um cuide de si, como puder. Ou se foda. A literatura de autoajuda enriquecia os escritores.
Com a racionalidade neoliberal, veio a demanda pelo mercado autorregulado e a desregulamentação dos órgãos estatais de fiscalização, como no último quadriênio sob o tacão autoritário do genocida, além de ecocida, no país. Ao introduzir o autoritarismo neofascista na gramática antitrabalho, o ponto de partida e de chegada foi o indivíduo boçal, o yuppie. A dissolução das divisórias entre a persona, o cidadão e o Estado fez parte da investida ética e teórica de um individualismo tóxico. As ciências humanas não ficaram imunes à expansão do vírus, quando assumiu caráter “metodológico”.
A marca do neoliberalismo – o individualismo “de massas” – se enraizou na intimidade dos cidadãos / consumidores, que oravam nos templos erigidos ao culto das mercadorias, os shopping centers. O mercado destruiu o sentimento de pertença a uma comunidade nacional, com a globalização. Os efeitos desintegradores foram capitalizados pelas igrejas neopentecostais. O antigo catolicismo foi nocauteado no canto do ringue. As modalidades associativas tradicionais sofreram um refluxo. A internet incentivou as experiências para uma sociabilidade digital. O desemprego e a extinção do imposto sindical obrigatório não são suficientes para entender o ritmo da superindividualização.
A segunda revolução do individualismo fez até a Alemanha, reconhecida pelo holismo e pelo comunitarismo, disseminar em seus habitantes a ideia-guia da felicidade na vida privée, bem como o desejo de se libertar dos constrangimentos sociais / morais e da subordinação aos padrões de uma coletividade, classe, partido, nação ou Estado. Atribuiu-se o “milagre econômico” no Norte da Itália às insurgências individualistas contra a tutela estatal. O lendário berço do Estado de Bem-Estar Social, a Suécia, percebeu no escrutínio de 1991 o desabrochar de um conflito que perdura entre as aspirações individualistas e o “modelo sueco”, então socializado e regido pelos interesses coletivos.
Utopia versus distopia
Os controles instituídos afrouxaram. O estatuto “libera geral” funcionou para reforçar a anomia social. Violar os protocolos sanitários, aglomerar e andar sem máscara na pandemia; transgredir a legislação ambiental com o desmatamento da região amazônica; dirigir acima do permitido nas estradas; reinterpretar de forma idiossincrática a Constituição para enquadrar caprichos e vaidades; desrespeitar a soberania popular pela negação do resultado nas urnas; e depredar o patrimônio simbólico da nação (o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a sede do Supremo Tribunal Federal / STF) são atitudes que rasgaram o contrato de cidadania e mergulharam os indivíduos no “estado de natureza”. Portanto, cortaram os laços de lealdade ao “estado social” hobbesiano.
O individualismo necrosou e, hoje, ameaça os pilares do Estado de direito democrático. Temperado pela ascensão da extrema direita na era neoliberal, nos hemisférios Norte e Sul, deu o sinal verde-amarelo para “a guerra de todos contra todos”. Muitas águas se acumularam, ao ponto do dique não suportar a pressão e arrebentar. No auge do hiperindividualismo, conflitos deixaram de passar pelo crivo da institucionalização. Os argumentos cederam à presunção das armas de fogo. A civilidade foi espancada e morta. A pós-verdade substituiu o consenso. O negacionismo apunhalou a ciência.
Ao rejeitar a potência do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, o neofascismo proclamou uma saída espetacular das estruturas institucionais da democracia, o que inviabilizou a possibilidade do diálogo e da negociação, em face da violência. Ignacio Ramonet, em “La nueva ultraderecha y la rebelión de las masas conspiranoicas” (Le Monde Diplomatique, 10/01/2023), escreve: “as massas sediciosas de ultradireita jamais ousaram se lançar ao assalto insurrecional do poder, sem o apoio de uma quartelada anterior empreendida pelas Forças Armadas”. Retiraram a tampa da irracionalidade.
A arquitetura legitimadora do capitalismo parecia eterna. A derrubada do Muro de Berlim suscitara reflexões acerca do “fim da história” e festejara o teto da humanidade: a “democracia liberal” e a assunção da “economia e da sociedade de mercado”. Mas as precipitadas profecias eram fake news.
A institucionalidade realmente existente, cujo programa continha as promessas não cumpridas pela representação política e as inovações tecnológicas, sofreu uma brutal erosão de credibilidade sob o neoliberalismo. A justiça fechou os olhos às absurdas iniquidades, engessadas pelo corporativismo. Na competição meritocrática, o ressentimento dos losers se contrapôs à arrogância e aos privilégios dos winners. Os perdedores padeceram a humilhação; os vencedores aprofundaram a discriminação. “O homem generoso será abençoado, posto que ele reparte seu pão com o necessitado” (Provérbios 22:9). Já o homem egoísta sequer sabe votar nas eleições, que dirá preocupar-se com o próximo.
Vai daí que, de acordo com pesquisas sociológicas recentes, 25% dos norte-americanos trocariam a democracia pelo regime iliberal, com um líder dominador “que faça o que tem de fazer”; enquanto apenas 20% dos brasileiros creem que a democracia reuniria condições para resolver os graves e colossais problemas do nosso “patropi”. Os dados alarmantes incitaram fantasias golpistas na mente doentia da famiglia miliciana sobre liquidar a Suprema Corte, “com um cabo e dois soldados”.
O ódio circula nos subterrâneos dos Estados Unidos (Trump) e do Brasil (Bolsonaro). Não à toa, o extremismo de direita transformou o ódio em ferramenta preferencial para a sua construção política e arregimentação de adeptos. Entrou em falência o paradigma capitalista, que contemplava somente 1% da população no mundo. Escancararam-se as portas para a utopia ou para a distopia. A disputa está em curso. Como escreveu o filósofo da práxis, “o velho morreu, mas o novo tarda em nascer”.
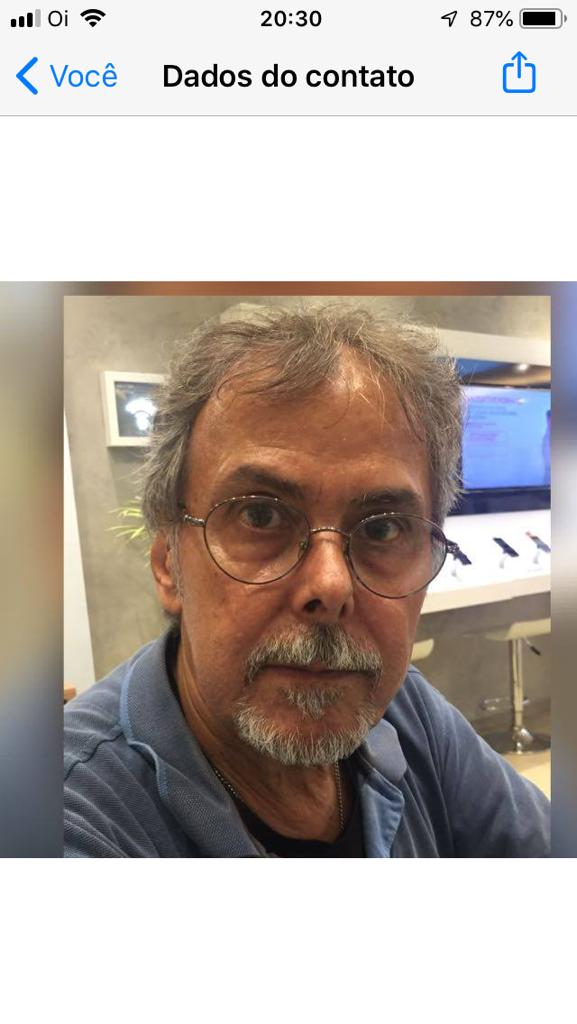
Luiz Marques é docente de Ciência Política na UFRGS, ex-Secretário de Estado da Cultura no Rio Grande do Sul

