A necropolítica de Israel

O sionismo, ao associar a religião ao nacionalismo belicista em expansão, encarna uma ameaça – para além da Faixa de Gaza – à paz na região, às relações internacionais e à humanidade. A extrema-direita aplaude o genocídio. (Foto de Gaza: Unicef/Reprodução).
POR LUIZ MARQUES
Há quantos anos os palestinos sobreviventes suportam a agonia da desterritorialização imposta? O governo israelense de extrema-direita responde à pergunta com a naturalização de um genocídio. As manchetes da imprensa provocam a confusão entre a crítica ao sionismo e o sentimento antissemita, na tentativa de convencer a opinião internacional. Israel atualiza a noção foucaultiana de soberania como controle da vida, através dos corpos. A isso, o pensador francês denomina “biopolítica”. Em tese, a coesão da sociedade implica a autoinstituição e autolimitação do sujeito: leia-se a disciplina. Não obstante, a assertiva de enaltecimento do contrato social oculta a vontade de poder do soberano sobre a vida e a morte. No fundo da caverna, trava-se uma luta capaz de ludibriar a astúcia da razão.
A soberania política, in extremis, não respeita os limites a que o temor submete as individualidades. Não lhe basta a finitude dos indivíduos, é preciso apagar seus rastros na memória da coletividade. O desaparecimento corpóreo de vítimas e a censura às lembranças foi uma rotina nas ditaduras civis-militares, na América Latina. Instalada em 2012, a tarefa da Comissão da Verdade visava fixar os devidos constrangimentos ao exercício da autoridade do Leviatã, para exorcizar os desvios sádicos dos agentes oficiais e impor, ao Estado-nação, a indispensável pedagogia dos direitos humanos.
A iniciativa governamental trouxe implícito o reconhecimento do risco de conversão do aparelho estatal em uma máquina mortífera, que extrapola os preceitos constitucionais. Neste sentido, Achille Mbembe, em Necropolítica, propõe “uma leitura da política como o trabalho da morte”. O biopoder mantém elos com a concepção schmittiana de política (amigo vs. inimigo), marca do extremismo de direita. Caíram em desuso as disputas sem dedo no olho entre adversários que acatavam as normas procedimentais da democracia, sem apelar ao ódio e às fake news no emaranhado da pós-verdade.
A violência é o denominador dos racistas. Vide o Esquadrão de Proteção da SS (Schtzstaffel) em ação, na Alemanha hitlerista. Ou a Klan (Ku Klux Klan) em favor da supremacia nacionalista dos brancos e da anti-imigração, nos Estados Unidos. Ou o BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) considerado a melhor tropa de snipers contra periféricos, no Brasil. O laço que une tais organizações remete aos inimigos fictícios que, perseguidos, têm os direitos à liberdade, à felicidade e à vida – cancelados. Os condenados da terra deixam de ser gente, antes de retornar ao pó. “Ó meu corpo, faz sempre de mim um homem que questiona”, brada o psiquiatra e ativista Franz Fanon.
O Estado assassino
O fascínio armamentista explica Israel afigurar-se referência do neofascismo hoje. O país possui duzentas ogivas nucleares, quiçá o maior e mais sofisticado paiol de todas as nações atômicas; dispõe de 170 mil soldados na ativa, 130 mil por terra, 10 mil navais, 30 mil na Força Aérea. Conforme a GFP (Global Firepower) aplica 4,5% do PIB (Produto Interno Bruto) no aparato militar. A energia guerreira é uma metáfora de Esparta, ao revés da pólis que amava a participação dos camponeses e dos artesãos livres em decisões da democracia direta, nas ágoras. Atenas soviética inspira a fusão dos governantes e governados. Mas o projeto não anacrônico de república pautado no término das desigualdades, agora, inclui as mulheres. O século V a.C. é um ponto de partida, não o de chegada.
Mais do que o pensamento de classe que traduz a história como uma luta pela hegemonia, a raça é uma sombra presente nas políticas do Ocidente de desumanização das culturas estrangeiras. Hannah Arendt, em as Origens do totalitarismo, assinala que “a raça é, não o começo da humanidade, mas o seu fim. Não o nascimento natural do homem, mas a sua morte antinatural”. A filósofa receava a criação de um Estado cercado de hostilidades, pois empurraria o nacionalismo judaico ao sionismo em detrimento do espírito (spiritus, respiro, coragem) universal. Virou uma persona non grata.
Também o abolicionista Joaquim Nabuco antecipou desconfortos no horizonte, após 350 anos de grilhões. O fato de a Abolição não vir acompanhada da indenização pelo trabalho forçado e de uma reforma agrária, para garantir a existência digna aos ex-escravos cujos afazeres tradicionais eram no campo, está na raiz do mal-estar das ditas elites com as lutas atuais de emancipação. “A escravidão permanecerá muito tempo como a característica nacional”. O espancamento de um morador de rua, preto, no vandalismo de 8 de janeiro, revela o racismo e a aporofobia nas dobras da bandeira verde-amarela. Arendt e Nabuco agiram como os profetas bíblicos, na acepção do Primeiro Testamento.
A função do racismo é regular a biopolítica para a distribuição da morte por intermédio do Estado assassino, que não é uma exclusividade dos regimes de exceção. Sociedades que se proclamavam democráticas conviveram com o sistema de plantation e a tripla perda da condição dos escravos: o lar, o direito sobre o corpo, o estatuto de cidadão. Na África do Sul, a soberania inventou zonas para relegar os colonizados no hiato entre o sujeito e o objeto. “Distritos” e “bantustões” agudizaram a opressão e pobreza severas. A espacialização planejada para a ocupação colonial traçou uma divisão em compartimentos, com linguagem alegórica para o gerenciamento do exército de reserva de mão de obra gratuita. Primo Levi descreve uma atroz mecânica de aniquilamento, em É isto um homem?
O soberano sionista
O termo que dá título ao ensaio do intelectual camaronês, de 71 páginas, aparece na de número 41, onde sublinha que a ocupação da colônia combina “o disciplinar, a biopolítica e a necropolítica”, que subjuga a vida ao poder da morte. “A forma mais bem-sucedida de necropolítica é a ocupação colonial contemporânea da Palestina. O Estado colonial tira a pretensão fundamental de soberania e legitimidade da autoridade de seu próprio relato da história e da identidade. A narrativa, reforçada pela crença de o Estado israelense ter o direito divino de existir, entra em competição com outra narrativa pelo mesmo espaço sagrado”. Os discursos e os povos são quase inextricáveis. Contudo, Israel alega o alicerce divino à nacionalidade, e reivindica uma posição acima da outra divindade. No Oriente Médio, o misticismo envolve o conflito em desrazão: a paixão, a fantasia, o destino.
A presença expansionista se apoia no terror abençoado com expulsões em massa, reassentamento de pessoas “apátridas” em campos de refugiados e estabelecimento de novos polos de colonização. O objetivo consiste em “impossibilitar qualquer movimento e implementar a segregação à moda do Estado do apartheid, com fronteiras internas e várias células isoladas” – política de verticalidade. Sob ruínas de hospitais, fossas com ossadas de centenas de palestinos exalam o massacre, enquanto no céu se ouve o grito mudo do Homo demens, a morte indizível, o mal-absoluto: o Holocausto.
As técnicas de combate ao inimigo passam pela sabotagem da rede de infraestrutura social e urbana, a apropriação de recursos naturais (terra, água, atmosfera), o bombardeio de pistas de aeroporto, edifícios, comunicações eletrônicas, transformadores de energia elétrica, equipamentos médicos, o desenraizamento das oliveiras e a violação de símbolos culturais e administrativos do Proto-Estado que não nasce. Estamos diante de uma guerra infraestrutural, como no Afeganistão e no Iraque. Um povo inteiro é arrasado pelo fanatismo do soberano sionista. Generaliza-se a insegurança, banaliza-se a morte, ignora-se o sofrimento, rompe-se a linha limítrofe que separa a civilização da barbárie.
“A guerra se inscreveu como fim e necessidade, não só na democracia, mas também na política e na cultura. Encadeadas umas às outras, causa e consequência umas das outras, tornaram-se remédio e veneno, nosso phármakon”, anota Achille Mbembe, no clássico intitulado Políticas da inimizade. O estado de exceção é a regra em escala mundial. A indústria das atrocidades e das letalidades não poupa nem as crianças. Enquanto todas as guerras de 2019 a 2022 mataram 12.193 crianças, os seis meses iniciais do conflito em Gaza já ceifaram a curta vida de 12.300 pequenos inocentes. Um cruel crime contra a espécie, desproporcional ao ato de terror e desespero cometido pelo Hamas, em 7 de outubro de 2023. O flagelo dos impérios Asteca, Hernán Cortés, e Inca, Francisco Pizarro, ora recepcionam na galeria desonrosa dos conquistadores a bête humaine que é Benjamin Netanyahu.
O primeiro-ministro neofascista deseja “restaurar Israel do tamanho que teve no auge, à época de Davi e Salomão”, assinala Leonardo Boff. Daí o empenho em colonizar territórios da Cisjordânia, como se fossem seus por graça de Deus, e a determinação para expulsar árabes e muçulmanos. Sua ideologia autoritária e totalitária aponta para uma teocracia de extermínio. O sionismo, ao associar a religião ao nacionalismo belicista em expansão, encarna uma ameaça – para além da Faixa de Gaza – à paz na região, às relações internacionais e à humanidade. A extrema-direita aplaude o genocídio.
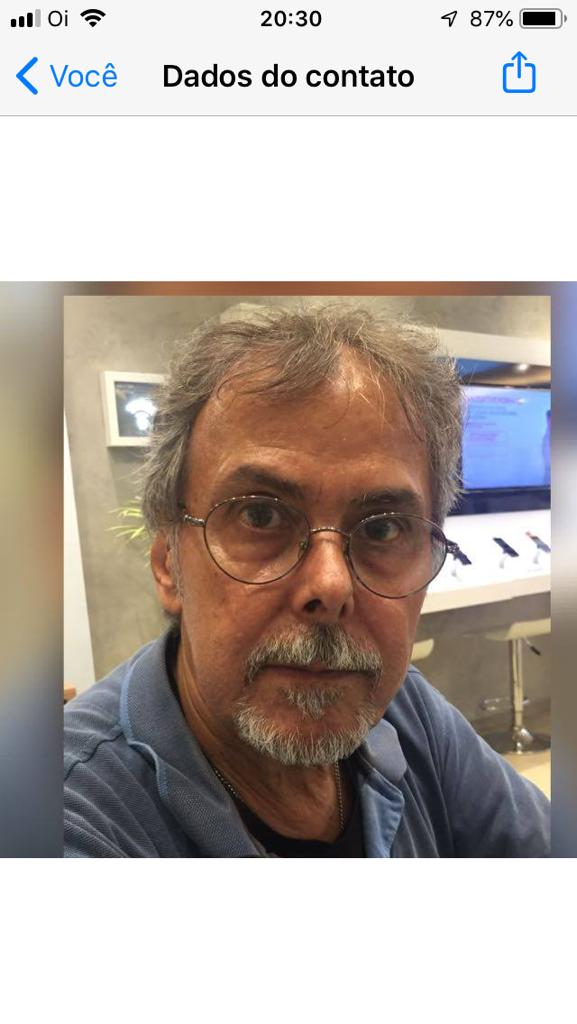
Luiz Marques é docente de Ciência Política na UFRGS, ex-Secretário de Estado da Cultura no Rio Grande do Sul

